
Exposição
Maranhão: Terra Indígena
26 setembro 2023 a 17 fevereiro 2024
Ministério da Cultura, Vale e Centro Cultural Vale Maranhão apresentam a exposição Maranhão: Terra Indígena. A exposição raz um panorama dos povos indígenas do Maranhão por meio de suas culturas materiais tradicionais, cosmovisões, territórios e línguas. São abordados rituais, mitos e heranças orais ligados à produção exposta, bem como aspectos da vida cotidiana dos povos originários Awa Guajá, Canela Rankokamekrá, Canela Apanyekrá, Gavião Kykatejê, Gavião Pykopjê, Ka’apor, Guajajara Tenentehar, Krikati, Tembé, Krepun Katejê, Akroá Gamella, Kreniê, Tremembé, Anapuru Muypurá, Tupinambá e Warao.
Tour Virtual
Assim é que continuamos sendo indígenas nos corpos que temos e na cultura que nos ilumina e conduz. Mas é claro que os indígenas que resistiram ao avassalamento são muito mais índigenas. Por isso é que passei tanto tempo com eles. Agora, convido você a me dar a mão e vir comigo para percorrer, de novo, suas aldeias. Boa viagem.
Darcy Ribeiro
Maranhão: Terra Indígena1 é a reivindicação de um fato. Os dois pontos da frase podem ser substituídos pelo verbo ‘ser’, no presente do indicativo: é. Maranhão é Terra Indígena! Como um manifesto, a sentença une duas instâncias que, embora sejam parte do mesmo dispositivo político de constituição do território, permanecem estrategicamente separadas. Ao afirmá-las juntas, suspendem-se as imposições do Estado sobre esse mesmo território, num exercício de inversão da negação histórica dos direitos devidos aos povos originários. O todo é a parte, não o contrário. A afirmação é radical, porque a indigeneidade floresce da raiz das coisas. Resiste à alienação letal aquele que, no confronto, assume o lado de quem encara a vida como criação: sou indígena porque produzo minha existência de forma radical.
É pelo avesso que se desmonta as estruturas impostas. Por trás da aparência fictícia, chega-se às origens de fato. A retomada requer o desvelamento dos sentidos originais, para além da história calcada. Sobrelevar a lógica hegemônica, perguntando pelo avesso das coisas e preenchendo as lacunas a partir do próprio material discursivo hegemônico, diga-se legal, coloca em xeque os valores morais/mortais do branco colonizador. Afirmar que o estado é Terra Indígena sinaliza o exato momento do crime colonial que estabelece duas formas opostas de estar no mundo; dois entendimentos distintos sobre a terra; duas maneiras incompatíveis de definir e viver o território: a negação do dominador – proprietário; e a afirmação do dominado – propriedade. Esse foi e continua sendo o dispositivo de construção nacional. É impossível não concordar que as terras, outrora casa de diversas populações com suas próprias línguas, culturas e agências, foram roubadas em prol de uma ideia civilizatória. Sabemos muito bem que uma guerra foi travada há mais de 500 anos, pela presença sobre o território em questão, e que ela permanece em nossos dias. O alienígena nega, o indígena afirma.
Maranhão é um nome inaugural. Foi determinado por aquele que tomou o agouro dos deuses para justificar e consagrar suas vontades. É a denominação que dá contorno político ao estado, estabelece divisas, abriga a economia segmentada – o turismo, o patrimônio e a geografia taxidermizada: topografia regular, capital: São Luís. Maranhão designa, por fim, o conjunto de leis que o fazem existir enquanto estado brasileiro, para os brasileiros (?) – abstração sobre tudo aquilo que se apresenta palpável de se abstrair, tirar, considerar isoladamente. Terra Indígena é o nome dado, também por quem inaugura, à parcela de terra minoritária destinada às populações que outrora nomeavam e delimitavam seu próprio território. Unir as nomenclaturas surge do desejo de tomar o poder inaugural para si e assim ocupar o lugar daquele que dá o nome, ou seja, o lugar da autonomia. Não é apenas querer mais, mas antes garantir o direito de querer.
A autonomia é a principal característica dos povos indígenas. Autonomia significa dar o próprio nome, criar as próprias leis, produzir a própria existência. Este é o sentido de propriedade indígena. A ele se opõe a lógica branca de alienação da produção dos meios de vida. As duas diferenças refletem-se no território: a primeira, em relação integrativa, comunitária, pública; a segunda, em movimento desarticulador, alienante e privado.
Nunca na história, os povos indígenas renunciaram ao controle de produzir a própria comida, a própria medicina, a própria roupa, a própria língua, os próprios caminhos; de serem próprios na relação que constroem com o território. Quando populações inteiras se deslocaram ou optaram pela morte em detrimento da escravização, estavam preservando o lugar ativo de sua agência no mundo. Como suportar raízes tão fortes? Tamanha liberdade é inadmissível para aqueles que não fazem com as próprias mãos, bem como para os que, de graça, as cortam fora e lhes lançam. Por isso, o genocídio. No entanto, o corpo indígena – corpo inteiro, corpo território, corpo raiz – resiste com os pés fincados no chão. Tudo isso enquanto o mundo se apresenta como uma multidão de galinhas degoladas, correndo atrás do próprio desespero, filme de terror.
Só há possibilidade de humanidade na condição indígena de existência e, para isso, exemplos existem. No Maranhão, os Kanela Rankokamekra e Apanyekras, os Gavião Pykopjê e Kykatejê, os Ka’apor, os Guajajara Tembé e Tenentehar, os Awá-Guajá, os Krikati, os Krepyn, os Kreniê, os Akroá Gamela, os Tremembé, os Tupinambá, os Anapuru Muypurá, os Warao e outros povos em retomada e autodeclaração, oferecem, desde a origem, alternativas pelo profundo fato de estarem presentes, construindo sentido a partir da terra e partilhando sua cultura; emprestando, de suas línguas, nomes a lugares, bairros, cidades; dando de comer por meio de suas receitas… em tantas situações, eles somos nós, basta refinar os sentidos. Afinal, de que lado estamos?
A coleção
Para que o visitante possa alcançar a ínfima experiência do ser indígena, optou-se por apresentar os elementos que podem mediar a intersecção entre os mundos, e que, aos olhos de quem vê, traduzem em formas, cores e usos, a maneira de ver daqueles que os produziram. Meus olhos são teus olhos. O ser humano é, de tudo, desprovido, e por isso necessita delimitar seus contornos por meio do que produz. Desprovidos, organizam a forma de lidar com o que os rodeia, suprindo o que falta, na prática.
O fascínio daquele que lamber os objetos com os olhos, advirá do que se sente: gosto de terra. Cada aspecto da cultura material é resultante das complexas relações que o indivíduo estabelece entre si e a coletividade, entre o dentro e fora, entre o corpo e o território. O tempo se encarregou de decantar a estética de cada povo, proposição imbricada de nuances, apropriações, relevos e sentidos. Dos cestos às indumentárias, das máscaras rituais aos instrumentos de guerra e pesca, o delicado diálogo entre o prazer da criação e o ser território se apresenta. Cada conta, trama e forma possui um uso específico, determinado pelo local exato, para o local exato. Não se cria necessidade. Arte pela arte? Longe disso!
Não se trata de arte, pois foram produzidas em contraposição ao sistema cultural ocidental, eurocêntrico, branco, colonizador e universalista. Não são arte, também, porque respondem ao uso preciso e necessário. Além disso, distantes da herança assinada, são legadas pela autoria coletiva que perfaz o que comumente chamamos de ancestralidade. Não se dão ao dólar, as peças são fruto do olhar definido por agência cultural própria. As coisas falam em suas línguas maternas e por meio delas conseguem transmitir, a quem nada conhece, uma parcela de sua profundidade, em seu amplo alcance. Quem ouvir as peças, escutará palavras que não entende; mas como quando se ouve uma língua estrangeira, pelas formas e gestos, pela aproximação e modulação, sentirá ressoar em si algum sentido.
A relação com a terra e com tudo que ela contém está presente em cada objeto, não de forma ingênua, porque está imbuída da responsabilidade que a liberdade de criar tem sobre a guerra em curso. Há prazer em cada miçanga enfiada no fio e contra o prazer, nada pode. Cada conta grita: eu desejo! As técnicas, formas e símbolos são determinados pela terra sobre a qual se constrói a coesão da cultura basal da coletividade. É sobre essas raízes que todo o resto se estabelece. Essas são as armas que se apresentam. Os objetos indígenas guardam a síntese mais depurada das imbricadas relações da ordem cultural: política, religião, língua, território etc.
O que se apresenta não é uma coleção índice, mas antes peças agrupadas a partir do sensível, do que encantou aos olhos, da beleza da fatura, do acordo da venda, do que foi trazido pelas mãos dos povos, do que se buscou como representativo para maior compreensão do mundo indígena. A coleção é fruto de um fluxo. Maranhão: Terra Indígena, assim como Brasil: Terra Indígena, propõem-se como manifestos a respeito da presença dos povos que se pretende apagar. Pois, aqui estão! Apresentam-se com alegria, poesia, beleza, sentido e força. Apreciar o que se vê é deixar-se indigenizar, para estar ao lado daqueles que, vivos, possuem raízes que pertencem à terra.
Gabriel Gutierrez
São Luís, julho de 2023.
1 O título da exposição é um desdobramento do manifesto posto em prática (por isso, manifesto) no Acampamento Terra Livre (ATL), em agosto de 2021, quando mais de seis mil lideranças, de aproximadamente 176 povos de todo Brasil, se reuniram para se opor à tese do Marco Temporal. Com chamas acesas, tais quais estrelas, marcharam em volta da frase desenhada com luzes no chão da Esplanada dos Ministérios, em frente ao Congresso, onde seria votada a lei que determina que indígenas só poderiam reivindicar terras que já ocupassem antes do ano constitucional de 1988. O Marco Temporal continua em discussão e evidencia a guerra travada desde a invasão das Terras Indígenas pelo colonizador português, que, nos dias atuais, perpetua-se no Estado e nas oligarquias diversas que o sustentam.
2 RIBEIRO, Darcy. Diários Índios – os Urubus-Ka’apor. São Paulo: Cia. das Letras, 1996.
3 CASTRO, Eduardo Viveiros de. Os Involuntários da Pátria. Aracê – Direitos Humanos em Revista, Ed. Cla, São Paulo, 2017.




A herança milenar dos povos ancestrais no Maranhão
Desde um passado distante, na área das Terras Baixas da América do Sul, em especial o vasto território do bioma amazônico (incluindo grande parte do atual estado do Maranhão), vivem populações humanas que deixaram marcas e vestígios nas paisagens e no solo, mostrando grande diversidade e dinâmica no manuseio, estratégias de sobrevivência e adaptações aos diferentes contextos ambientais ao longo do tempo.
Seus conhecimentos e saberes eram transmitidos em sucessivas gerações por um forte vínculo de tradições em que sobressaíam as vivências em sociedade baseadas em um sentimento comunitário e de transmissão oral de práticas culturais. Esses povos tinham profunda familiaridade com a natureza, explorando os ecossistemas em busca de alimentos e desenvolvendo um modo de vida próprio, que se definia em escolhas técnicas, ritualísticas e de caráter sagrado, refletidas também no tratamento diferenciado dado aos mortos e produção de objetos característicos de cada sociedade e período cultural.
No Maranhão, os habitantes mais antigos que a pesquisa arqueológica registrou até o presente foram as populações de caçadores-coletores, na área continental. Esses grupos se mantinham através da coleta e caça, se especializando na fabricação de artefatos de pedra, bifaces e lascas, machados de mão, além de pontas de flechas e lanças, geralmente em sílex, algumas de grande refinamento tecnológico, como observado no processo de lascamento e acabamento de peças encontradas na área amazônica do estado. As datações obtidas foram feitas através da análise de restos de carvões em manchas de fogueiras encontrados durante prospecções de até dois metros de profundidade, situando a existência desses grupos numa faixa temporal entre sete e nove mil anos antes do presente.
Outras populações também se destacaram na exploração de ambientes litorâneos, em especial nas interfaces dos manguezais, restingas e paleocanais de drenagem, onde construíam montículos artificiais a partir do acúmulo de restos alimentares oriundos da pesca; na coleta de moluscos e atividades cotidianas, uma cultura material derivada da exploração de recursos, além do reaproveitamento de conchas de bivalves, lascas, artefatos, adornos em ossos e machados de pedra. Tais sítios conservaram designação tupi: sambaqui (palavra que significa amontoado de conchas), abrangendo um extenso recorte temporal, além de uma preocupação especial na deposição dos mortos, geralmente em posição fetal. Os sambaquis do litoral do Maranhão e Pará apresentam ainda a ocorrência de uma cerâmica cujo preparo da argila envolvia restos de conchas trituradas, traço cultural diferenciado do restante do país.
Posteriormente, o experimento e manejo de espécies vegetais também se consolidou na distribuição estratégica de algumas espécies, permeando as florestas nativas. A prática da agricultura mais sistemática da mandioca, milho e amendoim assumiu importância na base alimentar que, associada à longuíssima tradição da pesca, caça e coleta, possibilitou o aumento dos contingentes populacionais. Em paralelo, surgiram novas modalidades de assentamentos – embora não fosse uma regra – onde pessoas habitavam grandes casas comunitárias, divididas em subgrupos de famílias, de acordo com a filiação mítica dos seus ancestrais. Esses modos de vida tradicionais perduraram por um longo período, caracterizado por grande diversidade linguística e cultural, além da formação de territórios fundamentados nas associações, controle e guerra, estabelecendo áreas de interface e influências entre os diferentes grupos. A cerâmica, utilitária ou ritual, era de grande relevância nas atividades cotidianas associada a uma indústria lítica, com o refinamento na produção de machados polidos, pilões e almofarizes, confeccionados a partir da seleção de rochas adequadas e trabalhadas por lascamento e abrasão na margem dos rios e afloramentos rochosos.
Nas áreas de planícies inundáveis do entorno do Golfão Maranhense, entre os anos 250 e 1000 da Era Comum, sociedades ceramistas, construtoras de palafitas no interior de lagos, se especializaram na exploração desses ambientes. Fixaram-se em aldeamentos de casas comunais construídas sobre pilotis de madeiras nobres amazônicas e produziram uma rica e variada cerâmica de feição própria, com apliques em formas humana e animal, assim como diversos recipientes com dimensões variadas e pintura decorativa elaborada na face interna, além de estatuetas antropomorfas e muiraquitãs. Uma parte desse repertório material sugere uma aproximação com o rico e misterioso universo xamânico dos povos amazônicos.
Nos territórios que compreendem o cerrado maranhense, região de cotas topográficas mais altas, vegetação variada e grandes sistemas de drenagem, povos anteriores ao contato deixaram vestígios em paredões areníticos, grutas e lajeados. Complexos painéis de gravuras ilustram o universo simbólico e expressões individuais e coletivas inseridos na paisagem, reafirmando sua permanência temporal como expressão de ancestralidade, testemunho e suporte de memórias de grande importância pelas suas interações com cosmovisões e ritos de passagem. Também existem exemplos mais raros de arte rupestre com pinturas nos limites dos municípios de São Domingos e Tuntum, representações de grafismos em cores ocre, vermelho e amarelo, de motivos zoomorfos (caracterizando animais) e antropomorfos (forma humana), na caverna Élida.
A partir de meados da Era Cristã, ocorreu a expansão dos povos Tupi-guarani, originários do sudoeste amazônico. Existem diversas hipóteses sobre as rotas de migração desses grupos. O achado de vasilhas cerâmicas na ilha de São Luís assinalou, a partir da datação de carbono 14 de carvões, o decorrer de 250 anos antes da chegada de Cabral. Esse conjunto de recipientes circulares apresentou bordas vermelhas reforçadas, decoradas internamente em preto sobre fundo branco, com desenhos complexos. Em função da pintura ser solúvel em água, aliado ao fato do resgate de outros vasilhames menores acompanharem o conjunto, formulou-se a hipótese mais provável de se tratar de uma cerâmica usada em práticas ritualísticas de sepultamento. As características morfológicas e decorativas das peças remetem à tradição arqueológica tupi-guarani, já localizada na Baixada Maranhense e na área central do estado. Esses grupos são os ancestrais dos Tupinambá, históricos, descritos pelos primeiros cronistas europeus na Ilha de São Luís, no século XVII.
Durante a expansão europeia para o Ocidente, os povos Tupinambá eram dominantes em grande parte do litoral atlântico da América do Sul, sendo os mais descritos pelos viajantes e religiosos, embora a partir de uma visão eurocêntrica inserida no processo de fricção que caracterizou a colonização e aniquilamento de grande parte dessas populações. A sociedade Tupinambá estava distribuída na região, em 27 aldeias na ilha do Maranhão, além de outras tantas em Tapuitapera e Cumã. Eram sociedades guerreiras de grande mobilidade e habitavam aldeias de quatro casas comunais em torno de um pátio central, cercadas por paliçadas. A guerra e a vingança constituíam traços característicos desses grupos, além das práticas ritualísticas de ingestão dos seus inimigos como forma de recuperar e vingar as forças dos seus ancestrais. Eram detentores de um conhecimento aprofundado sobre a natureza e as estrelas, além de possuírem um rico e diversificado panteão de mitos e lendas que alicerçava suas concepções de mundo, com destaque para a migração das almas dos guerreiros em busca da ‘Terra sem Males’, sua visão de paraíso.
Subsequentemente, o processo colonizador da expansão europeia foi brutal e aniquilou, escravizou e tentou apagar os valores culturais de grande número destes grupos e populações originárias. Entretanto, sua resistência tenaz, durante quase cinco séculos, possibilitou a sobrevivência de algumas etnias e seus descendentes, que atualmente imprimem nas feições do nosso povo a marca de gerações dos heróicos senhores da terra que trilhavam o território do Maranhão.
Deusdedit Carneiro Leite Filho
Arqueólogo. CPHNA-MA






Awa Guajá





Flechas para viver e lutar pelo direito de ser gente: awá. Elo entre os Awá e os karawara, essa gente do céu que ensina o canto para a gente da mata. O canto toma a noite e conduz os Awá para o céu e os karawara para a terra. Seres que trazem o sopro quente que cura crianças, mulheres e homens que teimam em andar, wata, por seus caminhos sob o dossel verde dos últimos remanescentes da Amazônia maranhense. “Para onde será que a caça foi? Para lá, para cá? Na mata sapecada pelos karai?”. O canto é guia e as flechas asseguram o direito de cantar.
Os não indígenas, karai, fizeram-se conhecer por seu barulho. Memória falada, agora também escrita, de crianças brincando no igarapé e a melodia nunca escutada de armas de fogo cada vez mais próxima. Uma criança morreu enquanto os karai disparavam seus instrumentos contra famílias inteiras que fugiam despedaçadas. “Não tem índio na região do Grande Carajás”, e passava a não ter.
Por caminhos abertos por pés de Awá e de outras gentes, seus hakwaha, eles seguem. A flecha que o menino aprendeu a fazer com o pai acertou folhas, matou calango e passarinho. Agora, como um awá tea, gente de verdade, faz flechas, wy’ya, que matam macaco e guariba, e flechas de taboca, kihia, que matam anta, veado, queixada e caititu. Do filhote da caça que sobreviveu à guerra, os Awá cuidam. Leite que alimenta a criança Awá e a cotiazinha, direto do peito ou na seringa, reforça o fluido vínculo.
Em mais uma incursão à mata para tirar as canas (Gynerium sagittatum) que formarão as hastes das flechas, a mulher Awá avista o mel, haira, que formará seus filhos. Cantores e conhecedores de uma variedade de méis e de seus fazedores que seguem resistindo aos karai insaciáveis. Após fazerem suas armas cantarem contra os Awá – alguns dos sobreviventes carregam dentro de seu corpo pedaços do contato – os karai usaram outras armas para derrubar a floresta e silenciar os vários tipos de gente que ali viviam.
Depois de venderem os pedaços de madeira, atearam fogo e trouxeram seus próprios animais que pastam moribundos no solo de capim queimado e palmeiras de babaçu. No papel foram forjados os karai donos da terra. Ruptura dos caminhos formados por tantas gentes. Quatro Terras Indígenas descontínuas e, fora do traçado dos mapas oficiais, só latifúndio e a fome dessa outra gente que passou a comer terra e seguiu rasgando o corpo e o território dos Awá. Os karai, com seus cachorros, suas facas, suas espingardas e suas máquinas que derrubaram árvores para abrir passagem ao barulhento comedor de terra. Abriram também buracos que podem ser vistos por seus satélites; tingiu pessoas e rios de um vermelho que não é de urucum. O comedor de terra serpenteia rios que já não são mais negros, estreitos e repletos de peixes como antigamente.
Pela Estrada de Ferro Carajás, ele passa inúmeras vezes, dia e noite. O fundo do rio e o chão da mata trepidam, a caça se espanta, vai para longe. Os Awá também se espantam com as doenças que se espalham e levam crianças e anciãos. Os caminhos dos Awá agora desembocam em arames farpados de fazendas, em estradas de terra e de ferro, em bares, escolas e igrejas.
Nas aldeias criadas para abrigar os sobreviventes Awá Guajá, em meio ao calor poeirento, eles seguem fazendo suas flechas, hastes perfuradas cuidadosamente pelas mãos e pés do homem Awá, awá wanihã, retesadas no fogo diante dos olhos daqueles que fazem cálculos que os karai desconhecem. A ponta laminada da taboca (Guadua glomerata), afiada cuidadosamente com o auxílio de um facão ou de um dente de caititu, é unida à haste pela corda de fibra de tucum (Astrocaryum), tikwira, linha preparada e tecida pelas mãos e pés ágeis da mulher Awá, awá wahya. A resina negra da anani (Symphonia globulifera), iratya, é esfregada na corda de tucum que mantém firmes todos os componentes das flechas, sustentação inquebrantável. À extremidade da haste, duas penas de gavião-real, urubu ou mutum são fixadas, curvatura que estabiliza e estabelece a precisão da flecha que será disparada pelo grande arco, irapa, feito do pé de ipê encontrado caído em plena floresta.
A flecha que tem ponta e gancho, ita’ĩa, abate os guaribas e macacos nas guerras que acontecem nas copas das árvores. Desejo e raiva no sangue-veneno, hawy, das caças onde as pontas das flechas foram besuntadas. “Para onde será que a caça foi?”. No canto, no sonho, no rastro, a caça se mostra e a flecha está pronta para atingir, certeira, a presa que alimentará o caçador, seus hapihiara e outras flechas.
Kwarahy mehẽ, é verão e os Awá já podem ir para o céu, awá oho iwape, mas é necessário fazer mais flechas. Proteção contra as tentativas dos karai de seguir avançando sobre os corpos e os caminhos dos Awá. O canto toma a noite e engole o barulho aferrado do comedor de terra. Homens adornados com colares e braçadeiras de semente de ubim e penas de tucano, com plumas de urubu-rei contornando seus corpos, seguras pelo breu branco que espalha o cheiro bom enquanto cada karawara dança entre mulheres com saias de fibra de tucum. Elas entoam os cantos que sustentam seus maridos no céu e os guiam de volta à tocaia.
O urro do comedor de terra não deixa os Awá esquecerem que estão sob ataque, assim como o rio não esquece cada grão de terra movido no trepidar incessante de apêndices articulados. Em meio a histórias sobre o fim de diferentes mundos, os Awá cantam e fazem flechas para que possam se proteger do apetite desenfreado daqueles que teimam em aniquilar mundos diferentes do mundo que, miseravelmente, criam para si.
Flavia Berto
São Luís, julho de 2023.




Krikati

Os Krikati, também autodenominados Krĩcatijê, carregam um significado profundo em sua designação. Krĩcatijê se traduz como ‘aqueles da aldeia grande’, uma expressão que reflete a importância e a centralidade de sua comunidade. Curiosamente, essa denominação é compartilhada pelos demais grupos Timbira, estabelecendo uma ligação cultural dentro do contexto indígena. Em contrapartida, os vizinhos Pukopjê se referem aos Krikati como Põcatêgê, que significa ‘os que dominam a Chapada’, ressaltando possivelmente aspectos geográficos ou de domínio territorial.
A língua Krikati pertence à família Jê, com sua raiz no tronco Macro-Jê e especificamente enquadrada no subgrupo Timbira Oriental. Conhecida também como Krikati-Mirim ou Gavião do Maranhão, essa língua revela características próprias, incluindo um sistema gramatical complexo e rica tradição oral. Os Krikati têm uma profunda ligação com sua língua tradicional, parte intrínseca de sua identidade cultural. O contato com a sociedade envolvente conduziu a fluência de alguns membros da comunidade também no português, domínio essencial para a comunicação intercultural.
O território dos Krikati é a Terra Indígena Krikati, uma área demarcada em 1992 que abrange uma extensão de aproximadamente 159.169 hectares. Essa região está localizada na parte oriental do estado do Maranhão, nos municípios de Montes Altos e Sítio Novo. Uma característica notável do território é a presença de rios e córregos das bacias dos rios Tocantins e Pindaré/Mearim, que desempenham um papel crucial na vida dos Krikati. A TI Krikati é o berço de duas aldeias principais, São José (a maior e mais antiga) e Raiz (fundada após a demarcação), enquanto uma terceira aldeia, a Cocal, reúne indivíduos Guajajara casados com mulheres Krikati.
Em relação à população, do povo Krikati, é difícil determinar o número exato de indivíduos, pois houve variações ao longo do tempo devido a fatores como natalidade, migração e outros aspectos demográficos. No entanto, de acordo com dados da Fundação Nacional do Índio (Funai), a população Krikati é estimada em torno de 1.300 pessoas.
Devido à referência comum nas fontes históricas entre os Krikati e os Pukopjê, no início do século XIX, o total da população dos dois grupos foi estimado por Paula Ribeiro em aproximadamente 2.000 indígenas. Em 1919, um censo do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) indicou uma população de 273 indígenas distribuídos entre as aldeias Engenho Novo e Canto da Aldeia. Foi só a partir dos anos 60 que as populações dos dois grupos começaram a ser indicadas em separado.
Fonte:
LADEIRA, Maria Elisa; AZANHA, Gilberto. Krikatí. Instituto Socioambiental, 2018. Disponível em: < https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Krikatí>. Acesso em: 07 de agosto de 2023.
Elas - as mulheres Krikati
Ka'apor
“Pirambir disse que Mair era um caapor real […] que fôra viver longe, lá onde o sol desce até a terra.
O céu encosta na Terra?
Exatamente. É em Iwi pita, onde Mair vive. O sol nasce perto de sua casa, sobe ao céu…e desce lá.
E como volta para perto da casa de Mair?
O sol é um homem, é como um homem. Quando ele se deita, então caminha de volta, por baixo de nós. Lá embaixo há florestas, há rios, é um mundo exatamente como êste nosso.
Quem o fêz?
Não sei, fê-lo Mair. Fê-lo todo belo e pôs um cocar na sua cabeça.”
(HUXLEY, 1963, p.244)
OS ADORNOS PLUMÁRIOS KA’APOR
O fragmento acima é uma conversa entre o antropólogo inglês Francis Huxley com o Ka’apor Antonio-hur na década de 50, período em que o etnólogo conviveu com esta comunidade indígena situada no norte do Maranhão, precisamente em terras que fazem limite com os rios Gurupi (ao norte) e Turiaçu (ao sul).
Antonio-hur, impressionado e desacreditado das noções geográficas de Huxley, resolve contar um mito que retrata, dentre vários aspectos, o entendimento dos Ka’apor sobre os limites do céu e da terra. A história narra como Pirambir – indígena ancestral – conheceu o ‘fim do mundo’ (iwi pita) e o herói criador Mair (ou Maíra):
Um dia, por acaso, Pirambir encontrou-se num lugar onde toda a paisagem era cinza e as árvores queimadas. O único colorido que via era o dos pássaros que lá habitavam: araras, papagaios, japus e outras aves. Num dado momento, ele avistou uma aldeia. Ao aproximar-se, ouviu um barulho de moagem e concluiu que alguém estava dando amendoim às araras. Mais tarde, Pirambir revelou aos colegas da aldeia que se tratava de Ara-yar – o dono das araras –, um belo homem que usava cocar, colar de penas no pescoço e outros adornos plumários por todo o corpo.
Este mito associa os adornos plumários à figura da divindade criadora, o grande herói Ka’apor, Mair. Mair é o próprio sol, a luz, o modelo ideal a ser seguido por todo indivíduo Ka’apor. O cocar ou diadema é a sua coroa e o símbolo da criação, feito com as plumas e penas dos pássaros citados no mito, simbolizando que Mair possui todas as virtudes desses animais, assim como qualquer outro Ka’apor que usá-lo. O fogo simboliza a destruição e, ao mesmo tempo, a renovação, elementos necessários no ciclo da vida. Todos estes signos potencializam e atribuem sentido às produções dessa etnia.
A plumária Ka’apor é uma forma de conexão com o mundo espiritual. O indígena se produz para se aparentar com suas divindades; para que sejam reconhecidos por elas e estabeleçam alianças, a fim de manter a vida em equilíbrio e garantir prosperidade para as aldeias. Essa conexão justifica o motivo pelo qual Mair é tão referenciado na mitologia: ele é um modelo a ser seguido; seus atributos estão diretamente conectados com a sua forma e aparência.
O corpo é o campo de elaboração política, estética e cosmológica para esse povo. Os adornos plumários e outros tipos de ornamentações, além de serem entendidos como elaborações criativas que materializam os ideais e os critérios estéticos dos Ka’apor, também são elementos de agência, que respondem às demandas da vida social e espiritual.
Quando um Ka’apor faz uso das penas amarelas da cauda do japu – ave muito respeitada e cultuada por suas capacidades de canto e tecelagem – para produzir o cocar-do-sol, o faz tanto pela beleza das plumas, quanto pelos atributos que o bicho pode agregar à vida social. O cocar é a materialização do espírito da ave. Sua nova forma permitirá que o indivíduo portador herde suas virtudes e transforme-se em um exímio cantor nas grandes cerimônias ou num grande tecelão para a comunidade, por exemplo.
Os adornos produzidos destacam-se pela flexibilidade e leveza com a qual se assentam ao corpo, por seus contrastes de cores sutis e pelas formas e motivos presentes, tudo elaborado com muita precisão e requinte. Além do cocar ou diadema (akangatar, usado somente por adultos, com raras exceções), existem as testeiras (akang-putir), pentes (kiwau-putir), tembetás (rembé-pipó, restritos aos homens), colar-apito (awá-tukaniwar, de uso restrito aos homens adultos, em cerimônias), colares femininos (tukaniwar), brincos (nambi-porã), braçadeiras florais (diwá-kuawhar), braçadeiras simples (iapu-ruwai-diwá), pulseiras (arará, também usadas como tornozeleiras), adornos de saias (arará, de uso feminino), cintos e tipoias.
A elaboração dos adornos plumários segue a lógica da forma-função. Todas as escolhas estéticas e técnicas respondem às demandas do uso, retomando valores e signos que compõem a cosmologia Ka’apor. As formas geométricas presentes nos brincos e as figuras de pássaros dos adornos labiais e pingentes dos colares, são obtidos através de um processo de colagem de plumas sobre bases flexíveis (tecido, casca de árvore, folha seca etc.), como num mosaico.
Essas técnicas respondem precisamente não só aos desejos de quem produz o artefato, mas às necessidades do uso cotidiano e cerimonial. Na perspectiva cosmológica Ka’apor, um adorno plumário possui a forma de um pássaro, não por se tratar de uma representação, mas sim por ser o próprio pássaro materializado em uma nova forma.
Alcenilton Reis Junior e Erick Ernani
São Luís, agosto de 2023.
4 A narração completa do mito de Pirambir pode ser encontrada no livro Selvagens Amáveis (1963, p.240-244), de Francis Huxley.
Referências
CESARINO, Pedro. A Política da Impermanência das artes ameríndias. I Simpósio Virtual Arte Indígena em Comunicação. Maio de 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Suvz26zBC9U> Acesso em 12 de julho de 2023.
LAGROU, Els. Arte indígena no Brasil: Agência, Alteridade e Relação. Belo Horizonte, Editora C/Arte, 2009.
HUXLEY, Francis. Selvagens amáveis: uma antropologia entre os índios Urubu do Brasil. Trad. Japi Freire. Vol. 316. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1963.
RIBEIRO, Berta G; RIBEIRO, Darcy. A arte plumária dos índios Ka’apor. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1957.
Guajajara

FESTA DO MOQUEADO
Ao final da tarde, saudando o pôr do sol, as meninas saem da tocaia com roupas vermelhas, sempre sérias e em postura, em sinal de respeito. Dançando, elas se juntam às cantorias que anunciam sua entrada. É o início de mais uma festa do Moqueado, tradição secular celebrada anualmente entre os Guajajara.
Os Guajajara, etnia indígena mais numerosa do Maranhão, possuem uma relação espiritual e física com a natureza. Um dos momentos mais importantes para eles é a transição da infância para a vida adulta, celebrada na festa do Moqueado ou da Menina Moça. O seu campo social e cultural é estabelecido a partir desta relação, em que todos os seres, vivos e não vivos, compartilham da mesma cultura manifestada no som dos maracás que carregam as vozes dos espíritos, nos cantos entoados e nas danças presentes nos rituais.
A festa dura, em média, o ciclo de um ano, dividida em fases que demandam tempo e organização para o seu preparo. A primeira é a tocaia, nome dado ao período em que as meninas permanecem em isolamento após a menarca. Nesta etapa, pede-se permissão aos donos da terra, através de cânticos que anunciam a entrada das meninas no processo do ritual, o que demonstra sinal de respeito aos espíritos e à fartura da próxima etapa: a caça. Esta é marcada pela busca de alimentos – como macacos e aves – suficientes para os dias de comemoração, garantindo a última etapa da festa, caracterizada pela distribuição dos bolinhos feitos a partir da carne moqueada.
Os dias da festa são marcados por cantos e danças que garantem a comunicação com o divino e produzem sentido por meio da interação física e espiritual com a natureza. A criação e transformação do mundo são atribuídas aos sobrenaturais, encantados ou karuwaras. Estes, podem ser os donos da floresta e das águas, os espíritos errantes de pessoas e de animais que sobrevivem à morte do corpo e dão sentido aos rituais como maneira de reafirmar a vida.
Os animais fazem parte da cosmovisão Guajajara. Muitos são fonte de transformação para quem participa da festa do moqueado. Um exemplo disso é o macaco, animal característico do ritual que, ao ser consumido, traz longevidade para quem o consome. Outro exemplo é a tona, ave cuja carne é passada nas partes do corpo em que mais se transpira, para evitar que as meninas sofram de mau-cheiro durante a vida. Mesmo após a perda física do corpo do animal, seu espírito ainda se faz presente, ocupando a posição de sujeito nas festas, por isso é tão importante o cuidado na etapa da caça, na qual as práticas compartilhadas dos saberes tradicionais são executadas. Fazer silêncio, ter olhos e ouvidos atentos, proteger o corpo, não ter medo, se resguardar, caminhar e parar constituem os procedimentos que determinam a vida dos caçadores.
Durante a festa, as diversas formas de ornamentação reforçam a aproximação entre os Guajajara e os espíritos. São utilizadas pinturas corporais com o jenipapo, plumas coladas ao corpo, joias de miçanga e outros artefatos que remetem à proteção e ao renascimento. As franjas dos cabelos das meninas também são cortadas como símbolo de um novo ciclo de crescimento. São deixadas para trás, como algo pertencente à infância que morre, para que uma nova mulher possa emergir.
As mulheres da comunidade desempenham papel de destaque na comemoração. Elas são responsáveis pelos cuidados no período da tocaia: durante a festa, na ornamentação das meninas com cocares preenchidos principalmente com penas de araras e colares; e no final do ritual, quando preparam os bolinhos feitos a partir da carne moqueada, técnica de preparo que dá nome à festa.
Moquear deriva da palavra tupi, moka’em, que significa ‘carne preparada sobre uma grelha’, e consiste numa técnica tipicamente indígena de defumar as carnes de caça como forma de conservação. O fogo é entendido como elemento purificador que altera a condição da carne do animal, já que o espírito sobrevive mesmo após a morte do corpo. A eliminação completa do sangue pelo calor impossibilita a manifestação de uma agência negativa sobre aqueles que a consomem, principalmente quando se trata das meninas, que por estarem passando pelo período de preparação, encontram-se mais suscetíveis à ação dos karuwaras. Durante a preparação para a Festa do Moqueado, os animais são caçados, tratados e temperados com sal, sendo retiradas apenas as vísceras, devido ao tempo que ficam guardados. No dia da festa, são cozidos, desfiados e misturados com a mandioca, que produz o bolinho feito somente com carne de caça. A forma de manusear a carne, a temperatura adequada, o tempo certo da fervura, o cozimento, a separação e a mistura com a mandioca, constituem os saberes que transformam o moquear em uma técnica.
A qualidade transformativa da festa acontece desde a tocaia até o momento final da celebração. Alcança seu auge por meio da ornamentação das iniciadas e do consumo da carne moqueada, que proporcionam a incorporação de características como longevidade, resistência, fortalecimento e proteção, não só às meninas, mas a todos aqueles que experienciam a finalização deste ciclo. As relações sociais estabelecidas durante o ritual fortificam a persistência cultural dos Guajajara, a ancestralidade e a continuidade da festa. Afirmam a importância do papel das mulheres mais velhas na preservação e cuidado da dimensão feminina da comunidade, exprimindo a troca, o zelo e o afeto dentro do ritual feito por e para mulheres.
Assim, ao nascer do sol, surgem novas mulheres. Vestidas de branco, simbolizando o amanhecer que marca a finalização de um ciclo para o início de outro.
Lyssia Santos
São Luís, agosto de 2023.
Fontes:
SILVA, Elson Gomes da. Os Tenetehara e seus rituais: um estudo etnográfico na Terra Indígena Pindaré. São Luís, 2018.
COELHO, José Rondinelle Lima. Cosmologia Tenetehara Tembé: (re)pensando narrativas, ritos e alteridade no Alto Rio Guamá – PA. 2014.
MORAIS, Letícia Leal Borges de. O que dizem os Tenetehara: o gesto das canções na Wyra’wha. Brasília, 2018.
PONTE, Vanderlúcia da Silva. “Mulher-pajé”: cosmopolítica do corpo na festa do wira’uhaw Tenetehar-Tembé. 2022.
FAUSTO, Carlos. Banquete de gente: comensalidade e canibalismo na Amazônia. 2002.



Akroá-Gamela

A LUTA DO POVO AKROÁ-GAMELA, DO MARANHÃO: RESGATE CULTURAL E PROCESSO DE RETOMADA
O povo Akroá-Gamela, do Maranhão, é um grupo indígena que há séculos habita a região do Baixo Parnaíba maranhense. A história deste povo tem sido pontuada por lutas e desafios em relação ao reconhecimento de seus direitos e à preservação de sua identidade cultural. O povo Gamela vive atualmente em seis comunidades nos municípios de Viana e Matinha, no Maranhão. Desde o século XVIII, os Gamela vêm sofrendo um processo de grande perda populacional e apagamento.
A partir do século XIX, com a expansão da fronteira agrícola e a chegada de não indígenas à região, o povo Akroá perdeu territórios e teve seu processo de alienação intensificado. A pressão sobre suas terras tradicionais, aliada à ausência de políticas públicas voltadas para a proteção dos povos indígenas, gerou um cenário de conflito e marginalização. Eles foram forçados a enfrentar a invasão de suas terras, a degradação do meio ambiente e a desestruturação de suas comunidades.
No início do século XXI, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que reconheceu e garantiu os direitos indígenas, o povo Akroá-Gamela viu-se diante de uma nova oportunidade de lutar por seus direitos territoriais e culturais. A retomada de suas terras tradicionais passou a ser uma pauta central na busca por reconhecimento e justiça.
O processo de retomada foi marcado por grandes desafios e tensões, pois envolvia a confrontação direta com posseiros e proprietários rurais que haviam se instalado nas áreas indígenas de forma irregular. Além do contexto de luta territorial, as festividades ocupam um papel central na cultura do povo Akroá-Gamela. As celebrações são momentos de expressão artística e cultural, em que se preservam rituais ancestrais, danças tradicionais, cantos e a culinária típica. As festividades são um momento de reafirmação das raízes e resistência Akroá-Gamela. A expressão mais importante é a festa dedicada ao santo afro-indígena Bilibeu.
Bilibeu, Belibeu ou ainda Bilibreu, é um santo esculpido em madeira e coberto de tintura preta como o breu. O encantado, cultuado nesse ritual, é uma figura mítica, primordialmente conhecida como ‘entrudo’, e possui importância central para a comunidade. Bilibeu é considerado guardião da saúde e da fertilidade, aspectos fundamentais para a continuidade e bem-estar do povo.
Durante o ritual do Bilibeu, os indígenas percorrem todas as aldeias do território Taquaritiua em uma corrida que dura cerca de 12 horas, conhecida como a Corrida dos Cachorros de Bilibeu. Nessa jornada, eles pintam seus corpos e marcham em busca das “joias”, votos às promessas realizadas. Galinhas, patos e porcos são oferecidos à entidade. Além das atividades centrais do ritual, outras ações e discussões ocorrem ao longo dos dias de celebração. A corrida das toras, a roda de conversa com lideranças indígenas e a discussão sobre a resistência à instalação de linhões de energia elétrica no território são exemplos de como o ritual do Bilibeu é um ato político.
O ritual do Bilibeu, que acontecia tradicionalmente durante o Carnaval, foi transferido para o mês de abril como uma forma de lembrar o massacre ocorrido em 30 de abril de 2017. Nesse trágico evento, os Akroá-Gamela foram atacados por uma diversidade de atores, incluindo políticos, membros da igreja protestante e fazendeiros, resultando em um verdadeiro massacre que deixou mais de 20 feridos. Dois indígenas tiveram suas mãos decepadas. A transferência da data para abril tornou-se símbolo de resistência do povo, em memória desses acontecimentos.
Referências:
SANTOS, Sandra de Jesus dos. O povo Akroá-Gamela e sua luta pelo território no Maranhão. In: Revista Geonorte, v. 5, n. 18, p. 1099-1110, 2013.
NUNES, Socorro Almeida. Os Akroá-Gamela no Baixo Parnaíba maranhense: etnicidade e territorialidade. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Maranhão, 2011.
OLIVEIRA, João Pacheco de. A presença indígena no Maranhão: da invisibilidade à reivindicação dos seus territórios. In: Anuário Antropológico, v. 90, n. 2, p. 273-300, 1991.
ARAÚJO, Laís Vitória. Luta e resistência: os Akroá-Gamela e a retomada de suas terras. In: Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas, v. 13, n. 25, p. 65-85, 2015.




Krenyê



OS KRENYÊ
Os Krenyê fazem parte do complexo cultural dos Timbira, que é o nome que designa um conjunto de povos que habitam o Maranhão, Tocantins e Pará: Canela Ramkokamekrá, Canela Apanyekrá, Apinayé, Parkateyê, Krahô, Krepum Kateyê, Krikatí, Pukobyê. Outros grupos Timbira já não se identificam como povos autônomos, como é o caso dos Kukoikateyê, Kenkateyê, Krorekamekhrá, Põrekamekrá, Txokamekrá, que se recolheram e se dissolveram culturalmente entre alguns dos povos Timbira acima citados.
O nome Krenyê significa pássaro, periquito, conhecido pelos não índios como Jandaia. O etnólogo alemão Curt Nimuendajú (1946) considerou a existência de dois povos distintos nomeados como Krenyê, os quais diferenciou em: Krenyê de Bacabal e Krenyê de Cajuapara. Com base no mapa etno-histórico, elaborado por Nimuendajú (1981), podemos observar a presença dos Krenyê nas proximidades dos rios Mearim, Grajaú e Gurupi, isso por volta de meados do século XIX.
A saída de parte dos atuais Krenyê da região à qual eles se referem como Pedra do Salgado, nas proximidades da cidade de Bacabal, foi consolidada entre os anos 50 e 60 do século XX, motivada por dois fatores, conforme demonstram os relatos e fontes historiográficas. Primeiramente, a crescente ocupação por migrantes na região do rio Mearim, que ocasionou consequências diretas sobre as populações indígenas remanescentes. O segundo fator foi o surto de sarampo a que foram acometidos, provocando grande mortalidade nesse povo. Os sobreviventes se refugiaram em áreas onde atualmente são as Terras Indígenas dos Krepum Kateyê (TI Geralda) e dos Tenetehara (TI Pindaré).
O avanço das frentes de expansão aliado ao surto de epidemias nessa região do rio Mearim provocaram não só a saída dos Krenyê e a sua busca por abrigo em outras Terras Indígenas, como a desagregação social de diferentes povos Timbira.
Nas últimas quatro décadas, as ações políticas protagonizadas pelos povos indígenas no Brasil visibilizam e concretizam pressões para forçar o Estado a efetivar direitos territoriais, étnicos, educacionais. Uma série de mobilizações políticas próprias, a elaboração de mecanismos de representação, a construção de alianças e identificação de pleitos compõem expressões das lutas dos povos indígenas. A batalha política do povo indígena Krenyê se inicia em 2004, a partir de suas demandas por terra, enquadradas em situações de conflitos decorrentes da convivência em terras de outros povos indígenas, e, ainda, das intervenções de órgãos que se tornam parte protagonista das disputas e pontos de vista. Durante mais de uma década, a luta dos Krenyê ensejou muitas demandas, seja através das ações, no campo jurídico, seja pelo embate direto por reconhecimento étnico e por direitos territoriais.
Finalmente, em 2019, eles tiveram sua terra demarcada, após um longo processo de mobilização, o que tem garantido a continuidade e a retomada dos seus padrões culturais através dos cantos, danças, rituais, atividades agrícolas e produção de artesanato.
João Damasceno Gonçalves
São Luís, agosto de 2023.
Krepyn Kateyê
KREEPYN KATEJÊ (Krepumkateyê)
Kreepym-Katejê ou Krepumkateyê (Krepum), o povo do macaco – atualmente também conhecido como povo Timbira – pertence à família linguística Jê, tronco Macro-Jê. Timbira é o nome que designa um conjunto de povos: Apinayé, Canela Apanyekrá, Canela Ramkokamekrá, Gavião Parkatejê, Gavião Pykopjê, Krahô e Krinkatí. Outras etnias Timbira já não se apresentam como grupos autônomos: os Krenyê e Kukoikateyê vivem entre os Tembé e Guajajara, que falam uma língua tupi-guarani (Tenetehara); os Kenkateyê, Krepumkateyê, Krorekamekhrá, Põrekamekrá, Txokamekrá se recolheram e se dissolveram entre alguns dos sete povos Timbira inicialmente enumerados.
Assim como os Krenyê, os Krepumkateyê também foram conhecidos como Timbira durante muito tempo, passando à autodenominação Krepumkateyê somente em meados da década de 1990, quando já tinham sua terra demarcada. Os Krepumkateyê não perderam seu território e conseguiram a demarcação da sua terra, Terra Indígena Geralda Toco Preto, em 1994. Desde 2017 – em Itaipava do Grajaú.
Os Krepumkateyê (Krepym = nome próprio de um lago; seria referência a um lugar onde as emas põem (pum) ovos (kre)) viviam próximo ao local anteriormente ocupado pelos Caracategé, no rio Grajaú, sendo provavelmente descendentes deles.
Referências
FIGUEIREDO, João Damasceno Gonçalves. Queremos dizer para o Brasil inteiro que nós estamos vivos e existimos: o processo de afirmação étnica e a luta por território dos Krenyê no Maranhão. (Dissertação de mestrado) Mestrado em Ciências Sociais, Universidade Estadual do Maranhão.
NASCIMENTO, Luiz Augusto Sousa do. Dispersão, coalescência e etnicidade de um grupo timbira: os Krenyê tecendo caminhos para o (re) conhecimento étnico e territorial. In: Encontro Brasileiro de Bolsista IFP – São Paulo, Fundação Carlos Chagas, 2010.




Gavião

OS GAVIÃO PYHCOP CATIJI
Os Gavião se autodenominam Pyhcop catiji (grafia utilizada por professores indígenas), que significa ‘povo’ ou ‘pessoal do gavião’. Atualmente, vivem na Amazônia maranhense, fazem parte do complexo linguístico-cultural Jê-Timbira e estão localizados na Terra Indígena Governador, de 41.642 ha, no município de Amarante do Maranhão, entre as Terras Indígenas Krikati e Arariboia.
A Terra Indígena Governador teve sua área demarcada em 1977 e homologada em 1982. Atualmente é composta por 10 aldeias: Aldeia Governador, Aldeia Rubiácea, Aldeia Riachinho, Aldeia Nova, Aldeia Monte Alegre, Aldeia Água Viva, Aldeia Canto Bom, Aldeia Novo Marajá, Aldeia Dois Irmãos e Aldeia Bom Jesus.
Nos últimos anos, a relação entre os Gavião e a população de Amarante, cidade mais próxima, tem ficado cada vez mais tensa, devido ao processo de revisão e ampliação dos limites da Terra Indígena, aliada aos constantes conflitos com madeireiras que utilizam uma via de acesso através dos povoados no entorno da reserva, para praticarem a retirada ilegal de madeira dentro da área.
O aumento populacional dos Gavião, a crescente pressão das atividades predatórias no entorno da Terra Indígena e a diminuição das áreas de caça, pesca e coleta dificultam a reprodução de modos de fazer e viver, o que impeliu os Pyhcop catiji a solicitarem, desde 2003, a revisão e ampliação dos limites territoriais.
As aldeias Gavião apresentam uma circularidade peculiar aos povos Timbira, com um círculo central, que é o pátio, onde acontecem os rituais, cerimônias e reuniões. Esse pátio é interligado por caminhos radiais a um círculo maior em que estão dispostas as residências.
Um dos seus principais rituais é o das máscaras Wyty, que se desenvolve a partir das metades e grupos cerimoniais. Durante o ritual, os participantes são divididos em grupos cerimoniais que se relacionam através de ações coletivas. Nesse rito, além da menina associada, dois jovens são escolhidos como “gavião”, são os hỳcre, e um menino é escolhido como “pintinho”, o ihntoo. Ambos ficam reclusos durante todo o ritual, afastados de seus familiares e só trabalham quando as mulheres da aldeia solicitam. Ao fim de cada dia, eles saem circulando as casas da aldeia para receber a comida que lhes é ofertada, uma rotina que se estende durante os meses de reclusão na casa cerimonial.
Outro ritual de passagem é o Pỳr pex ou Festa da Barriguda, como é conhecida a árvore de onde é retirada a tora para a corrida. O ritual consiste no encerramento de resguardo do luto da família e de toda a aldeia a qual pertencia a pessoa que faleceu. Durante o período do luto, há uma série de preceitos que devem ser cumpridos, tais como o uso de pintura corporal, o corte do cabelo, dentre outras restrições e determinações.
O Pỳr pex simboliza a continuidade do ciclo da vida e do cotidiano político e cerimonial, com o fim do resguardo de luto e a reinserção da viúva, dos parentes do morto e de toda a comunidade na vida social cotidiana, que começa com a preparação da “alma do morto” para alcançar a aldeia dos mortos e finaliza com a corrida de toras de barriguda.
João Damasceno Gonçalves
São Luís, agosto de 2023.




IRENE GAVIÃO
Sou Irene Gavião e nasci na antiga localização da aldeia Riachinho em 28 de abril de 1965. Meu nome, na língua indígena, é Mỹypaw (lê-se ‘mãpau’). Ter esse nome significa que eu faço parte de um grupo específico que recebe o ritual de iniciação à vida adulta, diferente de outros grupos de nomes, dentro do povo Gavião do Maranhão. Esse ritual, chamado de Wy’ty, é um dos maiores e mais raros e só alguns nomes recebem essa honra. Meu ritual de Wy’ty começou quando eu era bem criancinha, ainda sem entender direito, e foi finalizado no final da minha adolescência. Casei-me com 17 anos e logo tive meu primeiro filho. Hoje, tenho oito filhos, muitos netos e alguns bisnetos. Após todos os partos, sempre guardei o resguardo, pois esse é um período muito sensível para o corpo e para o bebê. Guardar o resguardo também me ajudou a ser uma boa corredora com tora (Pỳr Pex), e eu era uma ótima corredora! Quando outras etnias vinham disputar corrida de tora em nosso território, eu estava sempre à frente. Os missionários norte-americanos chegaram na aldeia Governador e posteriormente na aldeia Riachinho, pouco depois da época em que estávamos sofrendo com sarampo, febre amarela e câncer. Muita gente do nosso povo morreu. Na minha família, só restaram duas mulheres: minha mãe Germana e minha tia Maria Amélia. Nós fazíamos parte de um grupo Timbira chamado Rõocu Cati Ji, mas ficamos em pouco número e fomos assimilados aos Pyhcop Cati Ji. Hoje, já vai completar quatro anos que sou cantora. Decidi aprender porque percebi que deveria representar minha aldeia e o povo Gavião do Maranhão, já que nossos anciãos cantores estavam morrendo um a um. Como não me preocupei em aprender quando era jovem, aprendi a cantar escutando meus parentes. Hoje, sou cacique da aldeia Monte Alegre com muito orgulho.
Irene Gavião
Aldeia Monte Alegre, agosto de 2023
WYTY: Os Cantos de Resistência Gavião Pykopjê
Warao

WARAO
Os Warao, cujo significado se refere a ‘povo da água’, é originário da Venezuela e é considerado o segundo maior povo indígena do país, com aproximadamente 48 mil pessoas.
A língua materna também é denominada de Warao. Assim como a própria etnia, ela se encontra em situação de vulnerabilidade. Os movimentos de apagamento cultural têm sido eficazes, principalmente entre os jovens, que passaram a se comunicar apenas em espanhol, língua oficial da Venezuela.
O povo Warao são, tradicionalmente, habitantes do delta do rio Orinoco (Venezuela). Recentemente, o Relatório de Monitoramento do Fluxo da População Warao (OIM, 2020), realizado em parceria entre o Governo do Maranhão e a Agência das Nações Unidas para Migrações (OIM), traçou a mobilidade desses indígenas a partir de rotas migratórias partindo da Venezuela. O levantamento alcançou três cidades nas quais os Warao estabeleceram moradia: São Luís, Imperatriz e São José de Ribamar, referente aos dias 1º e 9 de março de 2020 (OIM, 2020, p.1).
Segundo o governo local, os Warao também estão em outros oito municípios do estado: Santa Inês, Paço do Lumiar, Pinheiro, Barreirinhas, São Mateus, Bom Jardim, Estreito e Açailândia. Cabe pontuar que a migração indígena Warao no Brasil tem se caracterizado justamente por fluxos complexos através de diversos estados e municípios.
A maior parte das famílias é composta pela pessoa de referência, companheiro e filhos. Em média, cada família possui quatro integrantes. Observamos também que 31% das famílias são monoparentais. A composição das famílias Warao que se encontram no Brasil, no estado do Maranhão, é diferente da composição familiar daquelas que residiam na Venezuela, indicando que somente parte dos integrantes da família original migrou para o Brasil. A média do número de integrantes do núcleo familiar na Venezuela, relatado pelos entrevistados, era de 10 integrantes; no Brasil, esses grupos familiares possuem, em média, quatro integrantes.
De acordo com dados compilados pela Plataforma R4V, mais de 5.000 indígenas venezuelanos chegaram ao país desde 2016 pela fronteira norte, sendo que aproximadamente 65% deles são da etnia Warao. Na Venezuela, a estimativa é que sejam mais de 50 mil indígenas dessa etnia. A população Warao está presente nas cinco regiões do país, mas até hoje poucas iniciativas buscaram melhor conhecer o perfil desses indígenas em deslocamento e nenhuma havia focado na sua chegada ao Maranhão.
Referências
BRITO, Jaciara Neves; BARROS, Valdira. Políticas públicas de acolhimento aos refugiados Venezuelanos Indígenas Warao pelo estado do Maranhão.
CARVALHO, Vívian. A língua Warao no estado do Pará. In. NEVES, Ivânia. Retratos do contemporâneo: as línguas indígenas na Amazônia Paraense. Relatório Final, FIDESA/SECULT/LEI ALDIR BLANC, Belém, 2021.
DURAZZO, Leandro Marques. Os Warao: do Delta do Orinoco ao Rio Grande do Norte. Povos Indígenas do Rio Grande do Norte. 2020.
Monitoramento do Fluxo da População Warao. Organização Internacional para as Migrações (OIM), 2020.
ROMERO-FIGUEROA, Andrés (2020). El contacto warao-español. Consideraciones sobre el proceso de aculturación léxica de la lengua nativa del delta del Orinoco. Editorial Académica Española. Pp. 65. ISBN 978-620-0-38531-4.



Os Warao de Upaon-açu
Canela Rankokamekrá e Apanyekrá

CANELA RANKOKAMEKRÁ e APANYEKRÁ
O termo Canela é utilizado pelo homem branco para três povos dos Timbira Orientais: Rancocamekrás, Apanyekrás e Kenkateyés. Originalmente, o termo Canela era associado aos Capiecrans, também chamados de Ramkokamekrás. Atualmente, a autodesignação que unifica os três povos é Memortum’re.
Os Canela falam uma língua da família Jê, tronco Macro-Jê, com pequenas variações. Conseguem entender facilmente Krikati/Pukobyé e Gavião, do Tocantins, principais línguas Timbira orientais sobreviventes. Porém, Apinayé (Timbira Ocidental) é muito diferente do Canela, semelhante ao espanhol em relação ao português.
Os Ramkokamekrás residem na aldeia Escalvado, conhecida como Aldeia do Ponto, cerca de 70 km ao sul-sudeste de Barra do Corda, Maranhão. A Terra Indígena Canela foi homologada e registrada e se localiza em Fernando Falcão, novo município. É delimitada pela serra das Alpercatas e rio Corda.
Os Apanyekrás habitam a Terra Indígena Porquinhos, regularizada na década de 1980, que está localizada a cerca de 80 km a sudoeste de Barra do Corda, Maranhão. Esse povo possui ecologia diversificada, com florestas e cerrados, além do rio Corda, para agricultura, pesca e caça.
Antes do contato com brancos, estimava-se que as nações timbiras viviam em grupos de 1.000 a 1.500 pessoas, mas cindiam-se devido a conflitos. Em 1817, os Kapiekran (ancestrais dos Ramkokamekrás) diminuíram devido a guerras e varíola. Em 1936, eram cerca de 300 Ramkokamekrás, aumentando para 1.387, em 2000. Já os Apanyekrás eram estimados em 130 indivíduos, em 1929, e registraram 458, em 2000.
Fonte:
ADAMS, Kathlen; PRICE JUNIOR, David (Eds.). The demography of small-scale societies : case studies from lowland South America. Bennington : Bennington College, 1994. 86 p. (South American Indian Studies, 4)
CROCKER, William H. Canela (Central Brazil). In: WILBERT, Johannes (Org.). Encyclopedia of World Cultures. v.7. New York : G. K. Hall & Co., 1994, p.94-8.
——–. Estórias das épocas de pré e pós-pacificação dos Rankokanmekra e Apaniekra-Canela. Boletim do MPEG: Série Antropologia, Belém : MPEG, n.68, 1978. 30 p.
——–. O movimento messiânico dos Canelas : uma introdução. In: SCHADEN, Egon (Org.). Leituras de etnologia brasileira. São Paulo : Cia. Editora Nacional, 1974. p.515-28. [Tradução do original em inglês publicado nas Atas do Simpósio sobre a Biota Amazônica, v.2 (Antropologia), p. 69-83, 1967].
——–. The non-adaptation of a savanna indian tribe (Canela, Brazil) to forced forest relocation : an analysis of ecological factors. In: SEMINÁRIO DE ESTUDOS BRASILEIROS (1o.: 1971). Anais. v.1. São Paulo : Instituto de Estudos Brasileiros, 1972. p. 213-81.
NINUENDAJÚ, Curt. The Eastern Timbira. Berkeley : Univer. of California Press, 1946. 357 p.
OLIVEIRA, Adalberto Luiz Rizzo de. Ramkokamekra-Canela : dominação e resistência de um povo Timbira no Centroeste Maranhense. Campinas : Unicamp, 2002. (Dissertação de Mestrado)
QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Organização social e mitologia entre os Timbira de Leste. Rev. do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo : USP, n.9, p. 101-2, 1970.

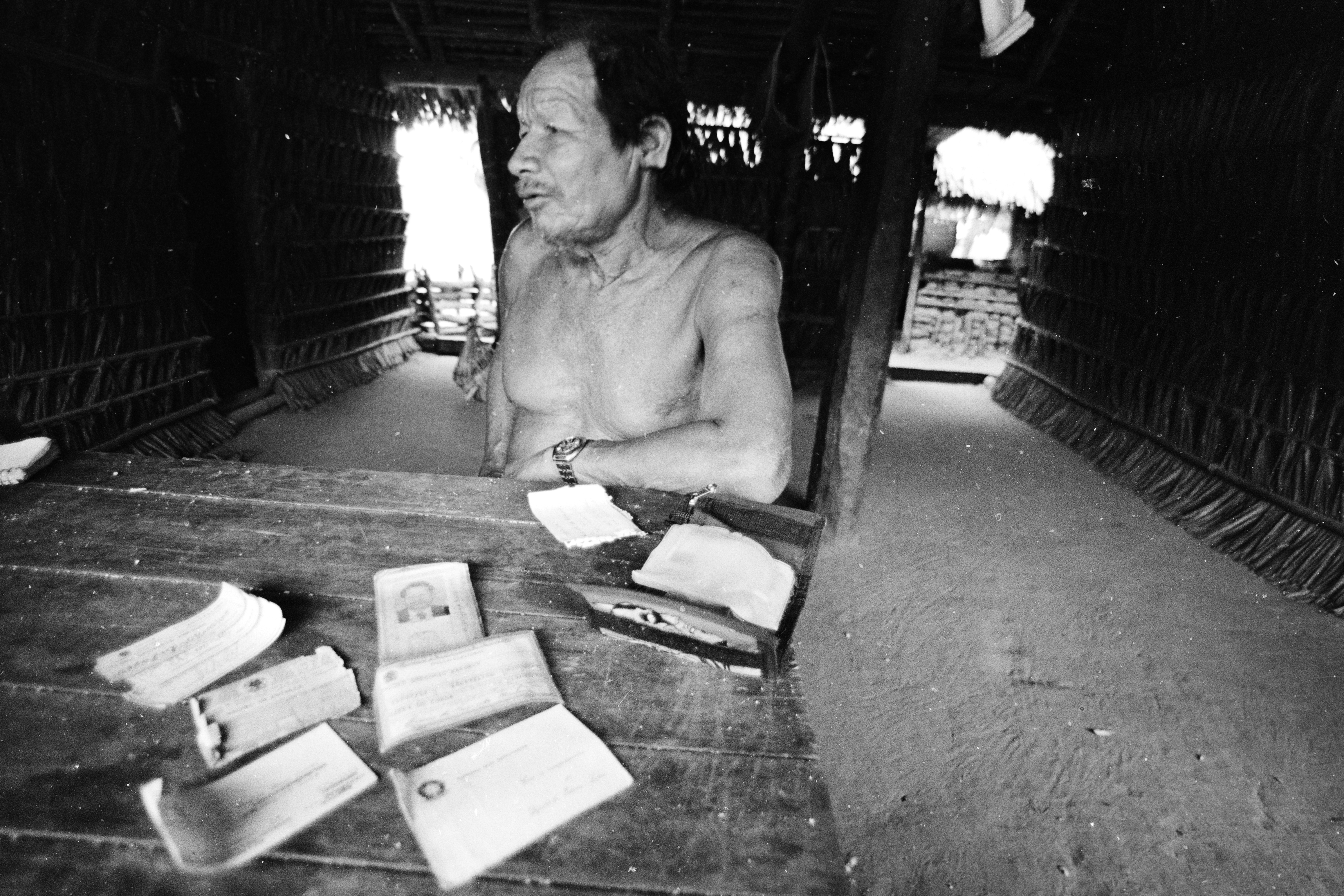


Kokrit




O RITUAL DAS MÁSCARAS KOKRIT
O Festival das Máscaras dos Ramkokamekrá, conhecido como Kokrit ou Kokrit-ho, é uma celebração cerimonial que ocorre durante o período de verão na estação seca. Os Ramkokamekrá, povo indígena do Brasil, realizam essa festividade, que consiste em cinco grandes amji kĩn (festas), sendo uma delas dedicada aos Kokrit.
A sociedade cerimonial dos Kokrit é composta por cerca de trinta membros e sua participação é transferida matrilinearmente, junto ao nome pessoal. Essa sociedade é responsável por criar e usar as máscaras-vestimentas, que são a personificação de encantados dos rios, parte de sua cosmologia. A festa das máscaras é uma forma de homenageá-los e entrar em contato com o mundo espiritual. Durante a festa, os mascarados interpretam os encantados do rio, comportando-se de maneira peculiar e enigmática.
Antes do festival, os membros da sociedade Kokrit se reúnem em um rancho distante da aldeia para confeccionar as máscaras usando palha de buriti. Esse processo leva cerca de dois meses, durante os quais eles não cortam o cabelo, nem se pintam. As máscaras são feitas sob medida, de acordo com a altura do proprietário, cobrindo-o completamente, inclusive os pés. Curt Nimuendajú (1946) e Reis e Lima (2003) descreveram 12 tipos de máscaras, a partir do traço dos olhos, que são realizados com tinturas de carvão, jenipapo e urucum. Os desenhos correspondem às qualidades ontológicas do ser que a máscara encarna. Cada modelo possui função específica, como por exemplo Ihhô-kênre (mestre de cerimônia), Tocaiweure (corredor) e Kempej (líder do grupo).
Após a confecção das máscaras e a pintura dos olhos, os mascarados saem em fila para a aldeia, onde são recebidos pelas mulheres, que atuam como ‘mães da máscara’. Cada mascarado escolhe sua mãe, que o alimentará durante toda a festa, fornecendo carne e outros alimentos sempre que ele quiser.
Duas moças são escolhidas como ‘rainhas da festa’ e também participam das celebrações, dançando com suas próprias máscaras chamadas Mekratamtúa. A festa dura várias semanas ou um mês, ocorrendo sempre durante o verão, quando a chuva já cessou.
Com o fim do período de brincadeiras e danças, a festa é encerrada com uma grande celebração em que os mascarados colocam seus capotes ao lado da muquia (grande berubu), onde todos comem, cantam e dançam durante a noite. Finalmente, os capotes são retirados e cada proprietário pode reutilizar a palha ou descartá-la.
Os Kokrit têm um comportamento peculiar durante a festa, sendo geralmente silenciosos ou emitindo um trinado suave. Eles se comunicam entre si e com os outros por meio de movimentos com as beiradas da máscara. Expressam contentamento dançando e balançando as franjas e, quando estão envergonhados ou irritados, podem abaixar a cabeça ou ameaçar com o chifre.
A festa do Kokrit é uma tradição rica e significativa para o povo Ramkokamekrá, permitindo a conexão com suas crenças, costumes e modo de vida ancestral. A celebração também desempenha um papel importante na preservação da memória e identidade do povo Canela.




RETOMADAS SÃO DESAFIOS
As retomadas desafiam uma história que os herdeiros da colonização se dedicaram por séculos a tornar a única aceitável. Para justificar a sua herança, precisam evitar qualquer dúvida de que a conquista terminou e foi bem-sucedida. Para garantir a sua herança, precisam que os verdadeiros senhores e donos da terra tenham desaparecido para sempre. Precisam também que, caso existam sobreviventes, eles tenham aceitado a rendição completa. Precisam, no entanto, que isso não seja chamado de rendição. Isso pode lembrar que houve guerra e que, afinal, a sua herança é um butim, ou ainda, lembrar que a guerra não acabou.
As retomadas, também, desafiam aquela que é a principal das heranças da colonização, que é uma capacidade muito pequena de imaginar como estar no mundo e enxergar quem vive nele. Os herdeiros da colonização receberam uma imensa coleção de instituições e tecnologias para não verem o que está para além do espelho, e para não escutarem o que está em volta.
As retomadas desafiam o silêncio. Mesmo com tantas línguas cortadas, interditadas, as vozes daqueles que tombaram ecoam e cobram o que lhes foi roubado.
As retomadas nos desafiam a reconhecer o absurdo e a violência da extinção dos povos. Todo povo se inventa e reinventa. Há povos que fazem da história das suas invenções a sua autenticidade, celebrando seus renascimentos e proclamações. Então, acusam os outros de serem inventados e exigem que provem sua existência passada e presente. Ao mesmo tempo, investem toda sua força, muitas vezes a força bruta, para impedir que os outros existam. Roubam as terras, proíbem as línguas, condenam as religiões, submetem à miséria e à escravidão e, depois, cobram-lhes por não terem ficado imunes à história e trazerem as suas marcas no rosto. Obrigam ao silêncio, à fuga, ao esconderijo e depois cobram-lhes por terem demorado a aparecer.
As retomadas são um desafio às tentativas de jogar no esquecimento aqueles que sempre estiveram aqui. Desde pelo menos o século XVIII, sabemos que os Akroá Gamella vivem no norte e no leste do Maranhão, além do Piauí. Desde pelo menos o século XVII, sabemos que, na costa do Maranhão, do Piauí e do Ceará, vivem os Tremembé. Desde pelo menos o século XVII, sabemos que, por quase toda a costa brasileira, vivem os Tupinambá. No Maranhão, foram os primeiros a encontrar os colonizadores, que tentaram eliminá-los e prendê-los no passado, mas ainda estão na llha de São Luís e na Baixada. Desde pelo menos o século XVII, sabemos que, no Baixo Parnaíba, vivem os Anapuru Muypurá. Desde pelo menos o século XVII, sabemos que os Kariri estiveram em quase todo o Nordeste do Brasil e que, desde os anos 60 do século passado, os Kariú Kariri estão no sul do Maranhão e no Tocantins.
Nesses séculos, eles vêm enfrentando investidas sobre seus corpos e suas terras. Foram alvos da cobiça pelo seu trabalho, seu território e muitas vezes punidos pela sua resistência. O Estado já lhes fez de inimigos de guerra, já tentou “pacificá-los”, já lhes reconheceu e negou o direito à terra e, para tentar pôr fim à história, chegaram a decretar a sua extinção. Apesar disso, seguem vivos, crescendo, com os pés firmes na terra.
As retomadas nos desafiam a romper com tudo o que sustenta as heranças da colonização, a abrir olhos e a lembrar que o Brasil e o Maranhão são Terra Indígena. O chão onde pisamos, o que está embaixo e em cima dele, tem muitos donos. As retomadas nos desafiam a reconhecer quais são os verdadeiros.
Guilherme Cardoso
São Luís, julho de 2023.
Anapuru Muypurá

HISTÓRICO DE POVO ANAPURU MUYPURÁ DO MARANHÃO
Em 1684, o povo Anapuru já vivia nas terras da atual cidade de Brejo – MA e lutou contra os colonizadores portugueses que queriam invadir o seu território.
Na época, o governo da Província expediu várias ordens oficiais para que se fizesse guerra aos indígenas, considerados “bárbaros tapuias”. Muitos foram os conflitos e guerras enfrentados contra os colonizadores.
Desde o início da colonização, o povo Anapuru resistiu o quanto podia às tentativas dos colonizadores em “reduzi-lo e pacificá-lo definitivamente”. A resistência dos indígenas era, sem dúvida, o maior obstáculo. Os frequentes ataques investidos contra os brancos eram sua resposta de defesa ao que eles consideravam, e até hoje consideram, a invasão de suas terras e violência contra o povo.
Perseguições, massacres, escravizações e o etnocídio institucionalizado colaboraram para que os Anapuru Muypurá fossem considerados “extintos” desde o século XIX, acarretando no apagamento e silenciamento impostos sobre a história e presença do povo Anapuru Muypurá.
Atualmente, os Anapuru Muypurá se apresentam dispersos em várias áreas rurais e urbanas do estado do Maranhão. Contudo, o povo possui maior concentração familiar em Brejo, Chapadinha e demais municípios da região do Baixo Parnaíba. Há também famílias nos estados que fazem fronteiras com o Maranhão: Pará, Piauí e Tocantins.
O contexto de invisibilidade social do povo Anapuru Muypurá começou a mudar em 2019, quando começaram a se reorganizar politicamente e estabelecer relações constantes com o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e com os demais povos indígenas em processo de retomada no Maranhão (Akroá Gamella, Tremembé do Engenho e da Raposa, Kariú Kariri e Tupinambá).
Os Anapuru Muypurá deram início à investigação de sua própria história, “cavacando memórias” e publicando-as nas redes sociais e retomaram a luta pelos seus direitos originários, sendo o primeiro deles, à terra.
Um dos aspectos centrais da identidade Anapuru Muypurá é a memória de uma origem comum que os ligam ao tempo do antigo aldeamento Brejo dos Anapurus.
Cada família mantém viva a história do povo, através da genealogia dos seus ancestrais indígenas perseguidos e sequestrados no período das guerras coloniais contra os Anapuru. Os anciãos são os principais guardiões dessas memórias, eles que as transmitem aos seus descendentes, de geração em geração.
Os indígenas Anapuru Muypurá eram exímios oleiros e conhecedores da arte da cerâmica, produziam potes, alguidares, quartinhas e panelas de barro. A “Olaria velha” do aldeamento Brejo dos Anapurus era onde hoje é a comunidade Olaria, em Brejo – MA. Naquela época, os homens trabalhavam na fabricação de tijolos, adobes e telhas e as mulheres com a produção dos potes e demais artesanatos feitos de barro.
Hoje, ainda é possível encontrar curandeiros/pajés/benzedores que fazem benzimentos, garrafadas, banhos e remédios “do mato”, e aqueles que cultuam os encantados, como Mães d’aguas, Curupira, Caipora, Caboclos Índios, Cobras encantadas e Cabeça de Cuia. Além dos indígenas Anapuru Muypurá que produzem artesanatos de palha e barro.
O “ser Anapuru Muypurá” vem sendo reconstruído ao longo desse processo de retomada e é influenciado tanto pelo passado – a memória dos mais velhos e os conhecimentos repassados por eles – quanto pelo presente – as lutas e reivindicações pelos direitos originários.
Lucca Anapuru Muypurá
Chapadinha, agosto de 2023.
“Muypurá significa ‘fruta do rio’. Somos frutas que brotam nas correntezas das águas doces, que ao mesmo tempo que alimentam, reflorestam a Terra com as nossas sementes teimosas. Os nossos anciãos são ingazeiros das matas ciliares. Suas raízes se alimentam das águas do rio, ao mesmo tempo que também são fortaleza para que o mesmo rio continue abundante. O povo Anapuru Muypurá é ‘igá’ (ingá), fruto do Ingazeiro Velho que nasceu na beira do rio. Um único ingá pode carregar dezenas de sementes na vagem. Sementes que teimam em resistir/existir.” – Lucca Anapuru Muypurá
Tremembé

A HISTÓRIA DE LUTA E RESISTÊNCIA DO POVO TREMEMBÉ DA ALDEIA ENGENHO
Os ataques aos povos indígenas são mundialmente conhecidos pelo histórico de violações e violências que começaram desde a chegada dos colonizadores. Com o povo Tremembé nunca foi diferente e, por vários contextos desfavoráveis políticos e institucionais no Brasil, sobrevivem lutando diariamente contra toda e qualquer forma de apagamento.
Os Tremembé são extremamente guerreiros e resistentes a terríveis massacres. É importante destacar o grande genocídio sofrido por este povo e seu solo sagrado, sofrendo, inclusive, com o processo de renomeação do seu território, antes chamado de São José dos Índios – principalmente por sua ocupação pelos povos Tremembé e Tupinambá -, hoje, a cidade de São José de Ribamar. Como se não bastasse tantas violências, os Tremembé foram violentamente massacrados, chegando a serem colocados em fileiras na frente do canhão para morrerem.
O Território Tradicional Tremembé do Engenho trava uma árdua luta em prol dos seus direitos com a finalidade de continuar viva sua história repleta de ancestralidade, cultura, modos de vida, religiosidade e encantarias. Lutando contra diversas formas de usurpações dos seus direitos, como grilagem, especulação imobiliária, invasões diversas, poluição do Rio Ubatuba, devastação ambiental, entre outros.
Localizados na região metropolitana da Ilha de Upaon-Açú (São Luís), na cidade de São José de Ribamar (MA), dispõem de uma área de 74 mil hectares, onde vivem 47 famílias que cultivam seus alimentos de subsistência e também abastecem duas grandes feiras da região, promovem, também, a confecção de artesanatos, atividades políticas e culturais idealizadas e realizadas pelo próprio povo, como forma de fortalecer os traços originários e ancestrais.
Atualmente o Território Tremembé está em fase de estudos, precisamente na fase de elaboração do relatório para aprovação da FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), uma conquista idealizada por muitas mãos, apoiadores juntamente com o povo, e da sua organização política, que é consolidada através do Conselho de Lideranças Tremembé.
E é nessa perspectiva e atuação em unidade que propagamos e fortalecemos a luta dos povos indígenas e ecoamos nossas vozes, lutando sempre por direitos, respeito e dignidade de todos os povos.
Raquel Tremembé
São Luís, agosto de 2023.
Tupinambá
TUPINAMBÁ NO LITORAL MARANHENSE
Muito se fala em uma nação indígena gigantesca que foi exterminada no Maranhão. Seria mesmo possível exterminar uma nação?
Em Cururupu, cidade cujo nome tem origem Tupi, conta-se a história de Cabelo de Velha.
O líder Tupinambá que guerreou pelo seu território, deu a vida pelo seu povo e morreu guerreando. É o nosso ancestral mais antigo.
Estamos localizados nas ilhas, vilas e povoados das entranhas de Cururupu e Guimarães, na baixada maranhense. Não vivemos em terras demarcadas como indígenas e estamos fora do estereótipo colocado aos “povos indígenas”, pois não estávamos inseridos em nenhum direito político como tal. A retomada ancestral dos Tupinambás no Maranhão é verdadeira, pois temos por direito, a qualquer tempo, o poder de nos levantar.
O silenciamento e apagamento forçado, nos faz manter distante aquilo que está dentro de nós. Essa nação, tão cantada nas toadas maranhenses, foi a primeira a ter seu sangue derramado, que está debaixo de seus pés. As pessoas esquecem que sementes teimosas rebrotam até no concreto. Assim somos nós, continuamos a brotar como nossos antepassados, e a lutar, agora com outras armas.
Retomar é um direito legítimo para um povo que foi massacrado. Tupinambá é invocado a se levantar e só através de nós isso é possível, pois somos a continuação. A coragem é uma herança, e nossa história não começa hoje, vem de nossos bisavós e tataravós que nos deixaram sabedorias como a pajelança, as ervas medicinais, a pesca artesanal e o auto cultivo de nossos próprios alimentos. A luta também está em resistir aos ataques daqueles que não suportam nossa existência e levante, e ao próprio Estado, que permanece silenciando os originários de suas terras.
Amanda Tupinambá
São Luís, agosto de 2023.


Museu da Pessoa
VIDAS INDÍGENAS MARANHÃO
O Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo de histórias de vida. Desde a sua fundação em 1991, é um espaço dedicado a transformar as histórias de toda e qualquer pessoa em patrimônio da humanidade. O Museu sistematizou suas práticas para transformá-las em uma Tecnologia Social da Memória, visando garantir o direito que todo grupo tem de registrar, preservar e disseminar as suas memórias como parte das narrativas históricas da sociedade.
As ações que deram origem ao projeto Vidas Indígenas Maranhão foram desenvolvidas pelo Museu da Pessoa em parceria com o Instituto Cultural Vale. A sua implementação está alinhada com os compromissos da Ambição Social da Vale de apoiar as comunidades indígenas na elaboração e execução de seus planos em busca de direitos previstos na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, e iniciativas de preservação e valorização da cultura fazem parte desse compromisso.
O projeto contou com o envolvimento das lideranças tradicionais locais e das organizações indígenas que atuam com as aldeias da Terra Indígena (TI) Pindaré, TI Alto Turiaçu e TI Caru. Os povos participantes foram Guajajara, no município Bom Jardim; Ka’apor, no município Zé Doca; e Awá-Guajá, no município Alto Alegre, todos no Maranhão.
Os objetivos foram realizar ações de mobilização e formação; registro e disseminação de histórias de vida de anciões por jovens. Com isso visou contribuir para a valorização das memórias de pessoas cujos saberes e fazeres constituem a cultura desses povos e estreitar o elo entre as gerações como forma de contribuir com as suas causas.
Ao todo foram formados 41 jovens e realizadas 70 entrevistas de histórias de vida, além de rodas de histórias gravadas com as comunidades dos três povos. A formação dos participantes se deu a partir da Tecnologia Social da Memória desenvolvida pelo Museu da Pessoa e de técnicas de audiovisual.
A experiência destes jovens resultou na concepção e organização de documentários, onde trechos das entrevistas selecionadas por eles durante o processo formativo trazem as trajetórias individuais e coletivas vividas neste território.
Os participantes, a partir do desenvolvimento da autonomia e protagonismo dos grupos, se engajaram com o movimento Guardiões da Memória com o objetivo de dar continuidade e ampliar as ações de memória construídas ao longo do projeto.
Por meio da musealização local – Floresta de Histórias, onde para cada pessoa entrevistada, foi plantada uma árvore e instalada uma placa com referência à sua história de vida, este movimento também promoveu a socialização das histórias, conectando as suas memórias às questões de preservação socioambiental.
Fica o convite para assistirem essas histórias produzidas por jovens indígenas que encontram na ancestralidade de seus povos o fortalecimento de sua identidade.
Museu da Pessoa
Vidas Indígenas Maranhão - Documentário povo Awá-Guajá
Vidas Indígenas Maranhão - Documentário povo Ka'apor
Vidas Indígenas Maranhão - Documentário povo Guajajara TI Pindaré
Vidas Indígenas Maranhão - Documentário povo Guajajara TI Carú
Objetos que produzem corpos e pessoas
A produção de adorno e indumentária indígena, assim como a pintura e outros elementos que compõem a cultura material e simbólica desses povos, nascem da elaboração de suas experiências com o mundo. Essas produções organizam sentidos precisamente desenhados e constituem a grande diversidade de modos de fazer e pensar entre as muitas etnias ainda existentes. Cada grupo produz sua cosmologia criadas a partir das relações estabelecidas com o outro e com as coisas que o cercam. Vida e morte, natural e sobrenatural, são noções imprescindíveis para perceber e organizar a experiência da vida entre os indígenas. Tudo se regula a partir dessas instâncias, que constituem a base para o limite e transbordamento do existir e das relações.
O encontro com a produção material dessas culturas, mesmo que superficial, revela radicalmente o quão fundamental é a experiência do toque. Tocamos o mundo para experimentar, possuir, discriminar, misturar, trazer a luz, criar e dar cabo. Os dedos, em pinça, tocam-se para efetivar a arte das coisas, que por sua vez tocarão a imaginação humana sobre si e sobre todos os outros bichos. O toque possibilita a construção de narrativas que, a partir dos artefatos, torna-se comum a toda cultura. Intrinsecamente, constitui todos os níveis de relação com o mundo. Ele é parte da consciência sobre a criação, manutenção e transformação dos elementos que compõem a cultura material, assim como as suas agências sobre nós. O domínio sobre as coisas configura a autonomia acerca das nossas próprias vidas. Nas culturas urbanas globalizadas, estamos cada vez mais apartados dessa consciência. Consentimos a substituição da autonomia criativa pela intervenção automatizada dos objetos sobre os nossos corpos e a tudo que diz respeito ao nosso estar no mundo. A única condição capaz de nos colocar em oposição ao automatismo mortífero é o domínio sobre os signos que nos cercam.
O poder de determinação dos próprios códigos possibilita organizá-los precisamente, de acordo com as nossas particularidades como indivíduos e coletivos, situando-nos criativamente e conferindo-nos autenticidade. Estarmos presentes em relação com o mundo é o fundamento da vida. E sobre isso, os povos indígenas agem precisamente. O conjunto de artefatos que conformam a exuberante manufatura indígena colabora diretamente na formulação de cada indivíduo face às suas próprias experiências em comunidade. O objeto criado como resposta à necessidade, na medida da vida em relação à presença no mundo, ganha a devida proporção. A produção desses dispositivos entrelaçam-se à produção de corpos e pessoas, no momento em que, neles, encontram-se impressas todas as formulações possíveis para a apreensão do cosmos. A composição da indumentária em seu contexto produz no corpo a experiência singular com a natureza e o profundo pertencimento à existência coletiva. Funcionam como letras de um alfabeto, com os quais se formam palavras, frases e toda uma linguagem comum. E como quem fala fluentemente uma língua, sujeitos e artefatos estabelecem a força generativa, que determina o campo de agência necessário aos processos de construção do ser. O atravessamento dos corpos por essa materialidade vincula o pertencimento para a transição de fases da vida, o lugar social no grupo, a hierarquia, a alteridade; estabelecem a comunicação com o sobrenatural e com o branco alienígena; concebem forma ao informe e materializam o insondável.
DESENCONTROS DE PERSPECTIVAS
O costume de produzir adornos a partir do acúmulo de cascas, ossos, dentes e sementes alinhados por um fio ou trama, remonta a um exercício muito antigo entre os ameríndios em práticas de pensamento relacional com o mundo. Estes objetos ordenam, em suas formas e funções, valores, signos e afetos que estabelecem conformidade entre os componentes de um determinado grupo. Organizam questões de ordem existencial, social, mística e estética.
A miçanga é um elemento comumente relacionado à história do escambo entre indígenas e europeus, no início da colonização. De fato, a relação de troca entre esses povos, em muito, deu-se pela atratividade e encantamento que esse elemento exerceu aos olhos nativos. Há grupos que afirmam a sua identidade pelo não uso das miçangas, porém, grande parte das populações indígenas incorporaram-na expressivamente em suas criações estéticas e rituais.
Embora indígenas de diversas partes trocassem entre si, muito antes da chegada dos colonizadores, sementes e pedras próprias para a confecção de adornos – além de objetos compostos desses materiais -, o encontro com as contas de vidro, de cores variadas, brilhantes, duráveis, resistentes e prontas para o uso imediato, tornou-as matéria de desejo entre eles. Ao olhar dos espertos estrangeiros, a troca de meras miçangas – entendidas por eles como quinquilharias – por matérias-primas de grande valor, acentua-lhes a leitura pré-estabelecida sobre esses povos como inferiores e ingênuos. Opostamente, para o indígena, a miçanga enquanto nova matéria, além de remeter a elementos formais já conhecidos por eles em seus usos e práticas – como as sementes de tiririca, por exemplo -, veio conjugar outros valores, dando intensidade e expansão à agência de seus artefatos. A fácil aderência da miçanga às produções indígenas evidencia qualidades particulares na forma destes se relacionarem com a alteridade.
A incorporação de elementos externos à cultura não configura, em primeiro caso, um problema. O exercício de incorporar o que lhe é distinto é parte fundamental na construção da identidade desses povos. O processo de integração da alteridade é a prática relacional que direciona todos os fundamentos da vida indígena. Dessa forma, garante-se que o agente externo seja traduzido, transformado e, ainda assim, continue ocupando o lugar de alteridade. A troca é o cerne para a lógica incapturável de ser e estar no mundo indígena.
Ubiratã Trindade
São Luís, agosto de 2023
Anti-Mickey
seja marginal
seja herói
Hélio Oiticica
O ser humano é desprovido de tudo. Diferente dos outros seres, que nascem prontos e perpetuam-se infinitamente pela ordem natural da espécie, o humano é impotente frente à natureza. No enfrentamento do cotidiano, perante a terra que cobra sua existência, desenha métodos para controlar o destino. Obiectum, para os romanos, era algo que se encontrava no meio do caminho, um obstáculo. Para uma pedra, outra pedra, já diria Cora Coralina, que juntando todas, fez escada. Os humanos criam coisas que, postas diante de si e do outro, tais quais obstáculos, ajudam a superar outros obstáculos. É o eterno movimento de profanar para o uso, transformar pedra em degrau, dar nome, sobrenome e predicado. Pela linguagem, sua maior definidora, os humanos enchem os objetos de significados, e, por aí, de truque em truque, de muleta em muleta, constroem o mundo mediado que se conhece.
Embora a articulação sujeito-objeto seja intrínseca à condição humana, ela não ocorre da mesma forma por todas as partes, afinal de contas, o compromisso que as comunidades e sociedades assumem consigo em relação ao todo, em relação ao outro e em relação ao indivíduo, designou-se de maneira distinta, embora a problemática humana partilhe da mesma base. Por cada parte, a configuração entre os sujeitos e ao que eles se opõem foi banhada por narrativas díspares, em que o desejo e a imagem sobre si compuseram dispositivos sociais distintos. Alguns focaram-se no objeto e na subjetivação do mesmo, preocupados com a própria centralidade; outros optaram pela constância da resposta urgente aos usos, preocupados com o que está à volta. Assim, não é à toda realidade que se aplica a coerência e a moral ocidental, pautadas na Economia, na História, na Educação, na Arte e todo aparato institucional. Tampouco é a diferença em tratar os objetos no mundo, sinal de progresso, nível de civilização, menor ou maior avanço. Hoje, lê-se em consciência global a partir da ótica hegemônica do instituído. Para compreender o sentido de “autonomia” dos povos originários, no entanto, é imprescindível separar-se dessa leitura estreita. Ao fim, o que todos ensejam é ser autônomo, pois essa é a única possibilidade de significância na vida.
No caso do colonizador, os objetos e gestos deixaram de significar por eles mesmos. Foram abstraídos e transformados em ídolos. Para além da resposta imediata à necessidade, as coisas, no mundo capitalista ocidental, foram convertidas em veículos da criação de novas necessidades desnecessárias, Arte pela arte. Desde o Renascimento, ao menos, a humanidade está viciada, não no problema da existência em si, mas nas formas infindáveis e particulares de resolvê-lo e, assim, produzir o acúmulo. Desta maneira são geradas a alienação do desejo e a morte.
Se os indígenas pintam-se de onça, é pela força felina, ou pelo temor humano. Se vestem penas e miçangas, é para comungar a existência, significar a festa, marcar os ritos importantes da vida. Se cantam o canto das aves, é porque são elas que os ensinam, não só por meio do mistério, mas pelo simples fato delas significarem enquanto tais, para aqueles que de seu canto apropriam-se no intuito da invenção. O pássaro só existe porque sobre seu canto inventa-se outro. A plumária labial dos Ka`apor, em forma de colibri, é mais real do que o próprio colibri. Assim, a criação indígena é religiosa, porque mantém separadas as instâncias, revisando, a todo momento, os limites de quem emite e de quem recebe, do “eu” e do “outro”, da utilidade e da inutilidade, quer seja animal ou objeto, apontando para a sobrevivência, no sentido supraespecular, daqueles que partilham a mesma cultura. O fascínio pelo espelhinho português certamente não durou muito. As coisas não são apenas sobre si. O ensejo é a infinitude pelos valores comunitários, em contrapartida à finitude individualmente assinada ocidental: autonomia x heteronomia – dependência e submissão.
Essa é a razão do ódio disseminado contra o ser indígena; ódio esse que tem justificado, desde então, a marginalização e genocídio de comunidades inteiras, por todas as partes e lados: A-U-T-O-N-O-M-I-A. A liberdade da autonomia é impossível no mundo branco capitalista, pois ela o corrói e destrói. Para se ter autonomia, as coisas, os seres, os elementos, as pedras, devem estar em seu preciso lugar, e o centro aglutinador deve ser o tempo da vida, criativa em sua amplitude. O tempo da vida não se troca, não se vende, não se substitui. Por esse motivo, é comum ouvirmos que lugar de indígena é na aldeia; que os povos originários são contra o progresso; que índio que é índio não usa celular, não usa camisa de marca, não dirige carro, não mora na cidade: fiquem fora!
Ingênuo e perverso é quem acha que o indígena de hoje é o mesmo de há 500 anos, desde o descobrimento das Américas. Ingênuo, quando desconsidera a capacidade humana de criar o próprio tempo, e perverso, ao guardar esse elemento de humanidade apenas para si: humano sou eu que determina o ar dos tempos, e só! Localizar e fixar as coisas e os homens num determinado período do tempo é trabalho da história e, comumente, é como se cria o dispositivo de marginalização e alienação do outro, que não eu, que escrevo. Pois bem: equívoco! Corpos dóceis? Jamais! – Bradam os povos originários em toda sua expressão cultural. A prova disso é a forma de integrar, na sua justa medida, tudo o que o mundo branco os faz engolir goela abaixo: cinto Nike; brinco do Corinthians ou do Flamengo, pode escolher; colarzinho Smile, Round 6, Angry Birds… Tudo isso poderia servir como espelhinho de troca, só que não! São todos de miçanga, contas, penas, feitos a partir do saber autônomo e ancestral indígena. Muitos puristas dirão que é a cultura original se esvaindo! Só que não, de novo! Ao contrário, é a manutenção da autonomia, do lugar criativo de produzir o cotidiano, de afirmar: Eu existo! O Mickey poderia ser de pelúcia, aqueles que se ganham em rifa ou se compram barato nos mercados. Não! É de sementes, feito por uma senhora Krikati, que quis fazer o Mickey! Nem Mickey, ele é! É Mickey-Marginal, Mickey-Autônomo: Anti-Mickey, assim como o anti-herói de Oiticica; assim como a contra-cultura de Gramsci.
Não podemos esquecer que as margens dão contorno. O centro só é possível por elas. Se o lugar para manter a autonomia é a margem: seja marginal, seja herói. Ao contrário da negação histórica dos direitos, isso significa a sobrevivência do mundo. Do centro, ela não virá! Que as margens sejam, então, os novos centros. É por elas que se começa e se termina de ler. É por elas que se viram as páginas, para se poder sonhar em paz.
Gabriel Gutierrez
São Luís, agosto de 2023.
Terras Indígenas no Maranhão

Para mais informações sobre os povos, clique aqui.

Eduardo Bartolomeo (Presidente)
Malu Paiva (VP Executiva de Sustentabilidade)
Alexandre D’Ambrosio (VP Executivo de Assuntos Corporativos e Institucionais)
Gustavo Pimenta (VP Executivo de Finanças e Relações com Investidores)
Carlos Medeiros (VP Executivo de Operações)
Marina Quental (VP Executiva de Pessoas)
Alexandre Pereira (VP Executivo de Projetos)
Marcello Spinelli (VP Executivo de Soluções de Minério de Ferro)
Rafael Bittar (VP Executivo Técnico)

CONSELHO ESTRATÉGICO
Malu Paiva (Presidente)
Flávia Constant (Vice-presidente)
Hugo Barreto
Octavio Bulcão
PROJETOS E PATROCÍNIOS
Marize Mattos
Equipe: Ana Beatriz Abreu; Barbara Alves; Elizabete Moreira; Eunice Silva; Fabianne Herrera; Flávia Dratovsky; Jessica Morais; Joana Martins; Luciana Vieira; Maristella Medeiros; Michelle Amorim; Nádia Farias; Neila Souza; Nihara Pereira; Renata Mello
DIRETORIA EXECUTIVA
Hugo Barreto (Diretor Presidente)
Luciana Gondim
Gisela Rosa

Gabriel Gutierrez (Direção)
Deyla Rabelo (Assistência de Direção)
Ubiratã Trindade (Coordenação do Programa Educativo)
Alcenilton Reis Junior; Amanda Everton e Maeleide Moraes Lopes (Educadores)
Iago Aires; Jayde Reis e Lyssia Santos (Estagiários do Programa Educativo)
Edízio Moura (Coordenação de Comunicação)
Nat Maciel (Coordenação de Produção)
Fabio Pinheiro; Luty Barteix; Mayara Sucupira; Pablo Adriano Silva Santos e Samara Regina (Produtores)
Ana Beatris Silva (Coordenação Financeira – Em Conta)
Tayane Inojosa (Financeiro)
Ana Célia Freitas Santos (Administrativo)
Adiel Lopes e Jaqueline Ponçadilha (Recepção)
Fábio Rabelo; Kaciane Costa Marques eLuzineth Nascimento Rodrigues (Zeladoria)
Yves Motta (Supervisão geral de manutenção); Gilvan Brito e Jozenilson Leal (Manutenção)
Charles Rodrigues; Izaías Souza Silva; Raimundo Bastos e Raimundo Vilaça (Segurança)
MARANHÃO: TERRA INDÍGENA
Concepção e organização
Gabriel Gutierrez
Curadoria Colaborativa
Alderina Gamela, Amanda Tupinambá, Awju Krikati, Carlos Henrique dos Santos Gamela, Cíntia Guajajara, Carminha Prunkoi Canela, Deusdedit Carneiro, Elisete dos santos Gamela, Ezileide da Conceição Akroá Gamela, Fábio Dias Souza Timbira (Krepyn), Flavia Berto, Francineiva dos Santos Akroá Gamela, Gabriel Gutierrez, Guilherme Cardoso, Iracadju Ka’apor, Irene Gavião, Jandir Gonçalves, Joana Dias Timbira (Krepyn), João Damasceno Gonçalves, Lucca Anapuru, Maria Cruguiê Canela, Marina Guajajara, Marcelino Peres Warau, Nicolete Putikoi Canela, Oscar Gamela, Oscar Cogoxe Canela, Raquel Tremembé, Ytatxi Guajá… e todos os representantes indígenas que de alguma forma colaboraram com a realização dessa exposição.
Coordenação Artística
Deyla Rabelo
Gabriel Gutierrez
Expografia
Gabriel Gutierrez
Raimundo Tavares
Textos e pesquisa
Alcenilton Reis Junior
Amanda Tupinambá
Deusdedith Carneiro
Edízio Moura
Érick Ernani
Flavia Berto
Gabriel Gutierrez
Guilherme Cardoso
Irene Gavião
Jandir Gonçalves
João Damasceno Gonçalves
Lucca Anapuru
Lyssia Santos
Raquel Tremembé
Ubiratã Trindade
Iluminação
Luis Zabel
Karine Spuri
Vídeos
Centro Cultural Vale Maranhão
Museu da Pessoa
Comunicação Visual
Fábio Prata, Flávia Nalon, Yugo Borges (PS.2)
Revisão de Textos
Ana Cíntia Guazzelli
Edízio Moura
Impressão
Daniel Renault (Giclê Fine Art)
Acervos
Christian Knepper (digitalização – Adson Carvalho)
Coleção Carlos Estevão (Museu do estado do Pernambuco)
Coleção Centro Cultural Vale Maranhão
Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão/CPHNAMA
Produção Executiva
Maíra Silvestre, Marcelo Comparini (MC²)
Produção
Fábio Pinheiro
Luty Barteix
Mayara Sucupira
Nat Maciel
Pablo Adriano
Samara Regina
Aderecistas
Carlos Carvalho
Fábio Pinheiro
Luty Barteix
Mayara Sucupira
Montagem
Diones Caldas
Fábio Nunes Pereira
Marlyson Nunes
Nebraska Diamond
Rafael Vasconcelos
Renan José
Vanessa Serejo
CENOTECNIA
Pintura
Daniel Almeida dos Santos
Francisco Santos Silva
Gilvan Brito
Serralheria
José de Souza Cantanhede
Elétrica
Jozenilson Leal
Marcenaria
Edson Diniz Moraes
Francisco Diniz
José de Ribamar Pereira da Silva
Wilson Silva